Condicionadores
condicionados
Num texto com perto de duas décadas, o investigador académico francês em jornalismo Alain Accardo explicou as estruturas de condicionamento da chamada “opinião pública”, a partir do condicionamento dos próprios condicionadores, nomeadamente os jornalistas.
Escrevia Accardo que “o observador do sistema mediático deve partir do princípio de que, na sua grande maioria, os jornalistas não estão maquiavelicamente apostados em manipular o público para maior proveito dos acionistas das empresas de imprensa em particular e dos investidores capitalistas em geral. Se agem como ‘condicionadores’ daqueles a quem se dirigem, não será tanto por vontade expressa de os condicionar, quanto pelo facto de serem eles próprios condicionados, e a um grau de que a maioria nem sequer suspeita. Fazendo (ou não fazendo) cada um deles espontaneamente aquilo que deseja fazer, concordam espontaneamente uns com os outros. Inspirados no poeta Robert Desnos, poderíamos dizer que os jornalistas obedecem à lógica do pelicano: “O pelicano põe um ovo branquinho. De onde sai, inevitavelmente, outro que faz o mesmo.”
Já data, aliás, de há quase setenta anos um outro texto seminal sobre como é ilusória a aparência de que são os jornalistas quem faz jornalismo, porque a realidade é a inversa, é o jornalismo que faz os jornalistas. Segundo o seu autor, o antigo jornalista norte-americano e posteriormente investigador Warren Breed, a “socialização” dos neófitos pela redação produz-se “por osmose”, com os jovens repórteres a aprenderem as técnicas do ofício e as regras da arte a partir da leitura quotidiana do próprio jornal, através do enquadramento dos seus colegas seniores e, por fim, da linha editorial que é aplicada de modo sempre oblíquo, não explícito, por parte das chefias. O mecanismo fundamental, como observava Breed no seu estudo sobre o controlo social na redação, como lhe chamou, era o da punição-recompensa, segundo o grau de afastamento ou aproximação aos requisitos do “jornal”.
Para além de tudo o que se modificou no plano tecnológico e das alterações no campo dos media em mais de meio século, no plano mais profundo, o processo permanece inteiramente válido no presente, segundo ex-jornalistas que optaram por sair para abraçar carreiras académicas nas universidades.
Luís Miguel Loureiro, hoje docente e investigador na Universidade do Minho, corrobora este ponto de vista. Para este antigo jornalista da RTP, onde trabalhou quase três décadas: “Chegado ao ecossistema, o novo jornalista é rapidamente absorvido, passando a trabalhar, normalmente sem o notar, de acordo com uma normatividade implícita, não dita, pela qual se regem as relações de trabalho estabelecidas a partir de uma organização profundamente hierarquizada, como qualquer estrutura produtiva industrial. Ou então, nota, quando essa normatividade se abate violentamente sobre a sua capacidade individual de questionamento do mundo, reduzindo o espectro possível de criatividade.”
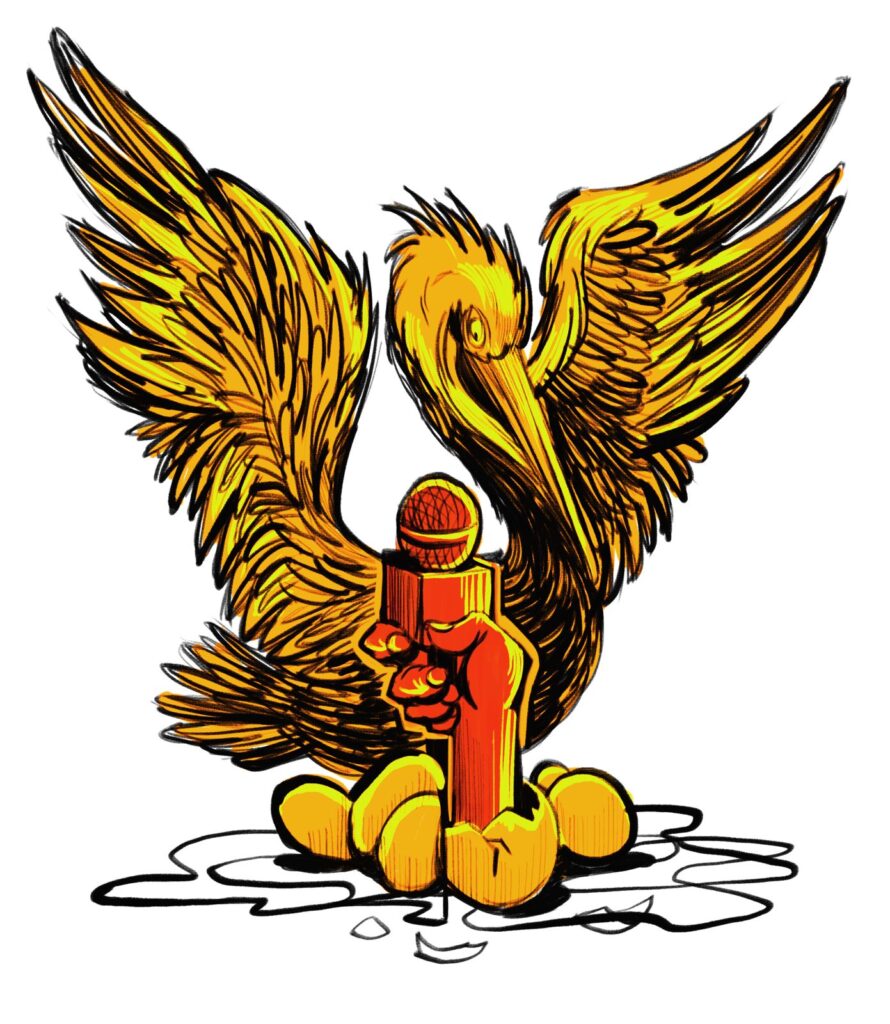
Disciplinar as mentes
Aquilo a que este antigo repórter televisivo, que iniciou a sua carreira na Rádio (Nova e Comercial) chama a redução do espetro criativo, corresponde ao que o autor Jeff Schmidt, na sua obra Disciplined Minds sobre os profissionais assalariados, considerou a política do apoliticismo. Schmidt não se referia só, mas também, ao jornalismo para dizer como, em diferentes profissões, usualmente associadas ao trabalho intelectual, dos juristas aos profissionais de saúde, passando pelos jornalistas, claro, a “recusa dos profissionais em questionar a política incorporada no seu trabalho serve os interesses daqueles que detêm poder na sociedade e contribui para a manutenção do statu quo social e económico”.
No entanto, observa perspicazmente Schmidt, “abster-se de questionar não parece um ato político, e por isso, os profissionais mantêm a aparência de neutralidade política no exercício das suas funções”. Na realidade, o que isto significa é que o “‘julgamento profissional’ ou a ‘opinião especializada’ do trabalhador intelectual não é objetiva, como se proclama, mas tende a favorecer os interesses do seu empregador. (Apoiar o empregador e apoiar o sistema em sentido lato não são exatamente a mesma coisa, mas, sendo este essencialmente um sistema corporativo, uma coisa reforça a outra)”, aclara o autor.
APOIA O MAIO!
Nunca os trabalhadores precisaram tanto de uma voz independente.
Para Luís Miguel Loureiro, desde o período do seu ingresso na profissão, há três décadas, foi notória “uma cada vez maior rarefação da indisciplina sã do questionamento”. Para isso, diagnostica, “contribuíram decisivamente as condições cada vez mais precárias do trabalho dos jornalistas, não apenas da precarização das relações socioeconómicas do trabalho, cada vez mais individualizadas, mas de todas as condições objetivas para a produção noticiosa: do abocanhamento das redações, cada vez mais pequenas, pelos agentes e estruturas, crescente e assimetricamente poderosos, da comunicação estratégica e propagandística profissionalizada, ao desgaste, quando não esgotamento e total captura dos dispositivos democráticos de representação coletiva dos jornalistas”.
A fuelização do medo
Alexandra Figueira, outra jornalista que trocou, há quatro anos, a carreira nas redações jornalísticas pela academia, reforça a importância destes mecanismos de “captura”, como os designa Luís Loureiro. Por comparação com os anos 1990, quando ingressou na profissão, Alexandra Figueira constata que no Jornal de Notícias, onde desenvolveu grande parte da sua carreia jornalística “a redação, que já não era muito contestatária, tornou-se progressivamente mais amorfa. O Conselho de Redação raras vezes auscultava a redação e deixava passar largas semanas entre cada reunião com a direção e o comunicado com o que lá foi discutido. As datas e a ordem de trabalhos das reuniões não eram divulgadas previamente”.
“Costumo dizer que sobrevivi a três despedimentos coletivos. Não sei o que aconteceria no quarto. Saí do jornalismo antes disso”, diz a antiga jornalista do JN e Diário Económico, hoje professora na Universidade Lusófona. “Num desses despedimentos coletivos, recordo-me de ter passado uma manhã a olhar para o telemóvel, à espera que tocasse. Corria a informação de que os recursos humanos estavam a telefonar a alguns de nós para comunicar o despedimento. Qualquer um podia ser abrangido, naturalmente, inclusive eu.”
Esta era a nova realidade para os jornalistas, que em finais da década de 1980 e princípio da seguinte tinham vivido o que poderia considerar-se à escala nacional um boom do sector, com contratações salarialmente mais compensadoras e surgimentos de novos títulos, haviam assistido e vivido ao processo de aburguesamento das redações dos media e da formação de uma elite organizada que passou rapidamente a funcionar primeiro em formação espontânea e, progressivamente, por cooptação, em função de amizades pessoais e/ou, sobretudo, de solidariedades políticas.
“A maior exceção”, recorda a exredatora do Económico e do JN, “resultou num grande momento de união a que já só assisti como espectadora”, em 2023, no âmbito da venda do grupo ao World Opportunity Fund e do despedimento coletivo anunciado de 150 trabalhadores. “Na altura, as redações do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias, do Dinheiro Vivo e da TSF mostraram uma enorme capacidade de mobilização, lideradas pelos jornalistas mais jovens, com o apoio do Sindicato de Jornalistas. A venda de todo o Global Media Group ao World Opportunity Fund foi revertida. Em alternativa, o Jornal de Notícias e a TSF foram vendidos à Notícias Ilimitadas, de um grupo de investidores do Norte que estará ligado ao dono do Global Media Group, Marco Galinha.”
E a vida prosseguiu, com uma repetitividade que só é perturbada pelo temor pessoal de quando chegará a cada um a sua vez. O medo do despedimento por parte dos repórteres de base encontra um eco inconfessado no medo dos chefes de, a qualquer momento, poderem vir a ser demitidos. Assim, hegemonia político-empresarial converte-se numa obediência generalizada no plano profissional e numa desestruturação radical da situação laboral.
Beneficiando de um estatuto formal equiparável ao que outrora se designava por “profissões liberais” ou “profissionais independentes”, à medida que a proletarização e a precarização se instalaram, o exercício profissional do jornalismo tornou-se cada vez mais uma ocupação insegura, onde o que é verdade hoje pode já não o ser amanhã. A insegurança que percorre a generalidade da prestação laboral no país, sobretudo no setor privado, abate-se também sobre as estruturas jornalísticas, sendo que, como sublinha Alexandra Figueira, “toda a imprensa portuguesa é privada, uma vez que não existe qualquer jornal de capitais públicos”.
A sensação de estar sempre em falta
“A minha sensação é de que estava sempre a trabalhar em défice”, diz Alexandra Figueira, a propósito do assoberbamento de trabalho e da intensificação da sua sobre-exploração. Com o passar dos anos, recorda a antiga redatora, “o volume de trabalho foi-se tornando avassalador. Havia cada vez menos jornalistas para responder a um número cada vez maior de solicitações. Ao usual trabalho para a edição em papel, acrescentou-se o online, com exigências muito próprias.”
Para além da crise geral de improdutividade do capital, num país com baixos índices de consumo de imprensa e altos indicadores de concentração publicitária nas televisões e, progressivamente, no digital, foi-se adensando o que Luís Miguel Loureiro define como a “complexidade do ecossistema” mediático, “no qual se cruzam todo o tipo de interesses, seria inocente da minha parte afirmar que os interesses e valores mais ‘elevados’ (o interesse público e a aferição dos valores-notícia, exclusivamente, pela lente ético-metodológica da objetividade) se conseguem sobrepor aos interesses comezinhos (dos interesses das fontes aos interesses particulares dos intervenientes no processo de produção noticiosa) que permeiam o quotidiano do trabalho da redação”.
Alexandra Figueira evoca a este respeito um episódio da sua vida jornalística quando recebeu da parte de um diretor a informação de que uma notícia sua “tinha custado um contrato de publicidade de alguns milhares de euros. A notícia já tinha sido publicada há algum tempo e nunca compreendi a razão pela qual o diretor me contou essa história”. Ou seja, enquanto mecanismos de condicionamento e mesmo afirmando não querer “medir a intenção do diretor” referido, o efeito, concluiu a ex-jornalista, “só poderia ser um: ainda que subconsciente, a autocensura relativa a histórias negativas sobre potenciais anunciantes”.
Formação: entre a técnica e a crítica
Para quem tenha integrado as primeiras gerações de jovens sonhadores que ingressavam nas faculdades para estudar jornalismo e acederem posteriormente à profissão, após Abril, em especial quando do arranque dos primeiros cursos superiores nesta área em inícios da década de 1980, e que acompanhe hoje as gerações que optam pelos cursos de jornalismo e comunicação, os efeitos derrisórios desta “agonia do jornalismo”, como muitos lhe chamam, é notória a abissal diferença de expectativas e a devastadora amputação do sonho.
Outrora movidos pela razão social de promover a justiça, defender a verdade, vigiar os poderes e exercer a liberdade de defender a democracia, opõem-se hoje perspetivas de alcançar se não a fama individual plasmada na figura do “pivô” de televisão, pelo menos a tentativa de conseguir chegar a trabalhar num jornal, numa estação de rádio ou de televisão em condições de sobrevivência mínimas.
A regra de ouro, imperativo absoluto, de atomização individual, de rejeição de qualquer tipo de ação coletiva organizada ou espontânea dentro das redações que possa meter “um pauzinho na engrenagem”, impera e coloniza os próprios imaginários da profissão. Só muito recentemente, um estudo da Universidade da Beira Interior conduzido entre profissionais do jornalismo em Portugal consegue captar uma perceção que, em termos explícitos, nunca havia sido ventilada, quando praticamente metade dos inquiridos se consideravam a si mesmos e aos jornalistas em geral como fatores de propagação de desinformação.
Até aqui, em Portugal como noutras geografias, os jornalistas atribuíam os fatores de pressão e controlo do seu trabalho quase em exclusivo ao que, na gíria profissional, é conhecido como “rotinas e constrangimentos” operacionais, falta de espaço, de tempo, pressão para publicar mais cedo que “a concorrência”, etc. Esse estudo parece sugerir, pela primeira vez, um eventual ganho de consciência sobre a realidade da profissão e a captura hegemónica das suas empresas, órgãos e títulos pela economia política predominante do grande capital.
Em que medida pode isso vir a tornar-se uma consciência crítica e contestatária ou simplesmente em mais um saber dócil e de docilização, com toda a carga de cinismo para o futuro imediato e de médio prazo da profissão entre nós, é difícil predizer. Para Alexandra Figueira, hoje na sua ocupação académica, a opção “tem sido privilegiar o conhecimento da realidade, dos efeitos dos media, das teorias do jornalismo, a capacidade crítica sobre a profissão, a sociedade, a política”. Para Luís Miguel Loureiro, de resto, a questão é idêntica, a consciência da “inadequação total que sei existir entre a ferramentação crítica que tento incutir nos meus estudantes e o ambiente de controlo que sei que irão, fatalmente, encontrar nas redações”.
Profissão para cínicos?
Suscitará poucas dúvidas a afirmação de que o jornalismo e as indústrias da consciência em geral – a que não escapa o sistema de ensino – estarão no epicentro do contraste entre a conceção clássica da política como modalidade superior de organização da vida dos coletivos humanos e a sua versão moderna de luta pela conquista e manutenção no poder de oligarquias organizadas em torno dos fluxos de capital.
Se, ao longo de toda a história do jornalismo industrial e, hoje, digital também, não faltam exemplos de integridade, valentia, militância pela difusão do real com verdade e não apenas como verosimilhança – que é o que hoje sucede –, se não faltam nomes como os de Seymour Hearsh, Robert Fisk, Julian Assange, Ryszard Kapuściński, ou os jovens Woodward e Bernstein e tantos outros, a sua realidade reside na condição de exceções que todos eles representaram e não poucos atraiçoaram.
Para os media corporativos a grande e única verdade é a do mundo dos negócios e dos interesses que se conjuram no seu seio, ao qual pertencem, aliás, os grandes grupos mediáticos, quer à escala local, quer global, a qual um antigo diretor da televisão norte-americana CBS resumiu numa frase simples acerca das opções editoriais e profissionais em jornalismo: “a merda dá dinheiro”. O resto é lirismo e filosofia.
Também na academia se conhece bem o problema, como se deduz das palavras de Alexandra Figueira: “O saber técnico – construir uma pirâmide invertida ou uma técnica de reportagem – é muito relevante, mas é relativamente fácil de transmitir. O mais difícil é dar aos jovens capacidade para questionar por que razão se faz uma pergunta e não outra, se escolhe um determinado aspeto da realidade para título, se ouve a pessoa A em vez da pessoa B. Privilegiar a execução técnica tem como efeito diminuir o espírito crítico dos estudantes. Enviar para as redações meros executantes técnicos é precisamente do que o jornalismo não necessita”. E grande parte dos cursos de formação foi cedendo à opção mais fácil e também a mais ilusória, a de que o jornalismo é um problema técnico, que encontra na técnica a gama das suas soluções, permitindo uma via de fuga para o problema político central que Charles Wright Mills, sociólogo norte-americano, deixou formulado desde os anos 1950: “entre a consciência e a existência fica a comunicação, que influencia a consciência que os homens têm da sua existência”.
Para Luís Miguel Loureiro, de resto, o problema abate-se, de forma semelhante não apenas no jornalismo profissional, mas na academia: “Penso até”, afirma, “pelo que observo, que está em decadência o próprio professor que viva, na academia, o dilema que eu vivo diariamente. Considero, mesmo assim, que não tenho alternativa: não concebo formação de jornalistas que não se funde em modelos de questionamento integral e de indisciplina intelectual militante perante a realidade.”
Sem dúvida que tinha razão Kapuściński ao intitular um dos seus livros que “esta profissão não é para cínicos”. E no entanto, parece não existir crítica da razão cínica bastante para cumprir a consigna do insigne repórter polaco. A crítica do jornalismo e a imprescindível distinção entre jornalismo e jornalistas que lhe deve presidir constituem-se hoje como elementos centrais de uma profissão e de uma atividade social que se degrada tanto quanto mais necessária se faz a sua integridade ou, pelo menos, a consciência crítica e a luta por ela.•
Quero saber mais sobre:

Rui Pereira
Professor universitário de jornalismo
